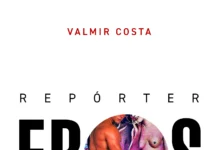Por Plinio Vicente da Silva
Eu ainda estava saboreando minha primeira reportagem publicada no jornal O Diário, de Ribeirão Preto, que merecera manchete de capa: “Raios matam rebanho de vacas leiteiras em Guatapará”. Era setembro de 1958 e o Brasil acabara de ganhar a sua primeira Copa do Mundo na Suécia quando, durante uma tempestade furiosa, tive o estalo de rabiscar aquelas linhas numa folha de papel, daqueles em se embrulhavam pães e outras compras no bar da estação. Tinha apenas 16 anos e aquelas linhas, tortuosas e mal traçadas, fizeram-me ficar famoso na vila onde morava, embora, construída às margens do rio Mogi Guaçu, minha casa ficasse afastada da área urbana.
Aquele episódio marcou o início de minha carreira de jornalista, que já dura 63 anos. O prazer em ver meu nome estampado no jornal foi algo glorioso para um jovem caipira e uma certa soberba me estimulou a fazer mais, embora me locomovesse com dificuldade por causa das sequelas deixadas pela poliomielite. Mas eu jamais desisti de ser jornalista, ainda que esses problemas físicos me obrigassem a andar ajudado por aparelho ortopédico e um cajado usado como bengala.
Na caça a novas pautas, o que era uma tarefa difícil, pois nada ou quase nada acontecia naquela pacata e modorrenta vila, tive a ideia de narrar as atividades que faziam parte de uma velha tradição. Algo que era mantido como um valor cultural pela população desde os tempos em que o lugar era apenas uma pequena estação onde se embarcavam madeira e café coletados em fazendas rio acima. Segundo o costume, toda antevéspera da Páscoa um grupo “roubava” animais que, já de forma predisposta, eram deixados ao alcance dos “larápios”. Depois, levados para a casa de uma família, aquela que naquele ano se oferecera para fazer o almoço pascoalino, e para o qual eram convidados todos os donos de leitoas, leitões, galinhas, patos e outros mais “surrupiados” de seus quintais. No Sábado de Aleluia, voluntários passavam o dia ajudando no abate, limpeza e destrinche das “vitimas”, que ficavam depois repousando em tempero aguardando o preparo que começava já na madrugada do domingo.
A cada Sexta-feira Santa o mesmo ritual se repetia e sempre com mais e mais participantes à medida que ia crescendo o número de famílias que passavam a se radicar na vila. A coisa funcionava assim: no começo da semana uma “comissão” passava de casa em casa “convidando” os donos para participarem da tradição. Quem aceitasse assinava um recibo declarando a doação de quais e tantos animais, informando o local em que eles seriam deixados e de onde poderiam ser “furtados”. Segundo a tradição, esses “delitos” não eram considerados pecado, pois ocorriam nas horas mortas do dia em que Cristo foi crucificado, o que, portanto, recebia aprovação de Deus Pai como desforra pela morte de seu Filho. Como a vila ainda não tinha padre e a igreja estava apenas nos alicerces, todos tinham essas premissas como paradigma e por isso abençoavam a existência dos “ladrões da meia-noite”.
A “comissão” se reunia na esplanada da estação e o “chefe” distribuía as turmas, cada uma com um líder, as quais eram encarregadas de “roubar” os animais da casa de fulano, sicrano e beltrano. A mim, que não tinha condições de escapar de uma possível emboscada de alguém arrependido, cabia uma tarefa tão importante quanto à dos “ladrões”. Por volta das 23h50 da quinta-feira, enquanto as turmas seguiam cada uma para o lado da casa que lhes fora designada, eu percorria quatro quarteirões até chegar à residência de Benedito Ferreira da Silva, misto de marceneiro, carpinteiro e barbeiro. Em frente ficava o posto onde fora instalada a chave e ele era o responsável por, toda seis da tarde e toda seis da manhã, ligar e desligar a iluminação pública. Para isso, seu “Dito Caboclo”, como era chamado, transformara uma vara de eucalipto em um dispositivo que tinha um gancho de ferro acoplado na ponta, com uma angulação que permitia perfeitamente manejar a alavanca do pequeno transformador. Para cumprir essa missão eu pedia emprestado a seu Benedito o relógio de bolso, da marca Patek Phillipe, que ele herdara do pai, meu avô português Manuel Vicente da Silva. Já com o varão em punho, quando os ponteiros marcavam meia-noite em ponto eu deixava as ruas da vila no escuro. Era o sinal para que começasse a “roubalheira”. Tudo não podia durar mais que o combinado e quem extrapolasse acabaria se expondo, pois exatamente à 0h15, hora morta, como se dizia, eu religava a chave e devolvia a energia às lâmpadas das ruas.
Seria apenas uma reportagem documental, mostrando uma tradição exclusiva de Guatapará, que não se repetia em outras localidades da região. Pelo menos, não que eu soubesse. Todavia, o que tornou o assunto saboroso foi uma confusão envolvendo meu primo Sebastião Silva, o “Tiãozinho”. A ele e a mais dois “ladrões” coubera a empreitada de recolher uma leitoa e um pato do quintal de seu Eufrásio Moreira, manobrador da Paulista, cunhado de José Nuno da Veiga, o “Português”, concessionário do bar da estação e que era fanho de nascença. À “comissão”, Eufrásio declarou que deixaria a jovem suína e o penoso palmípede num cercadinho atrás da “casinha”, o banheiro daqueles tempos. Numa época em que não havia ainda sistema de esgoto, essa dependência era construída sobre uma fossa a alguns metros da casa, quase sempre ligada a ela por uma área coberta que permitia, em dias de chuva, ir lá e servir-se dela sem se molhar.
Pois quando chegaram, “Tiãozinho” e seus companheiros, que sabiam onde exatamente deviam fazer a “coleta”, não encontraram os bichos, o cercado estava vazio e então o jeito era esclarecer a questão com os donos. Só não contavam com um detalhe: Eufrásio e a irmã Rosaria viajaram para visitar um parente na Santa Casa de Araraquara, prometendo voltar a tempo de participar do almoço da Páscoa, que naquele ano seria em nossa casa, na beira do rio.
Por causa das atividades no bar, “Português” não foi. No meio da noite, sozinho, barriga doendo por causa de uma maionese vencida, foi usar a privada e ouviu um barulho estranho. Deu com a leitoa e o pato no cercadinho e como não sabia nada sobre o “acerto” feito pelo cunhado e pela mulher, sua irmã, achou que tinham escapado. Assim, embora apertado, antes de entrar na “casinha” resolveu levá-los de volta ao chiqueiro e ao galinheiro, que ficavam do outro lado. Depois, já lá dentro, para ficar mais confortável, tirou a calça e a pendurou num prego na parede.
Meu primo e os doutros dois pularam a cerca e nada dos bichos. Artur Gonçalves, o “Cará”, e Aparecido Bronzini Bonfim, o “Marreco”, ambos colegas de escola e dois dos meus melhores amigos, começaram a cochichar perguntando uns aos outros onde estariam as “prendas”. De repente, lá de dentro da privada veio uma voz esganiçada: “Quem, quem, quem?”
− É o pato! Tão na “casinha”! –, exclamou “Tiãozinho”, agora sem a preocupação de falar baixo.
Rapidamente os três deram a volta, um deles com um saco de estopa nas mãos, acenderam um fósforo, empurraram a porta e deram com o “Português” sentado no vaso, sem calça. Achando que estava sendo assaltado, ele queria saber quem eram, levantou-se, caiu, levantou-se de novo, e em meios a uma enxurrada de impropérios disparou atrás dos três. Só que, por ele já ser uma certa idade e os três estarem ainda no vigor da juventude, a caçada não durou mais que meio quarteirão. Enquanto “Tiãozinho”, “Cará” e Marreco” sumiam na escuridão, não restou a “Português” se não voltar semipelado à casinha e dar vazão ao que agora era uma terrível disenteria…
Resultado: quando voltaram no trem da manhã de sábado e souberam do ocorrido, Eufrásio e Rosária fizeram questão de levar a leitoa e o pato e entregá-los nas mãos de minha mãe a tempo de se tornarem parte do “banquete” pascoalino. Claro que escrevi a matéria não só falando da tradição como também contei tim-tim por tim-tim a história de um português fanho, confundido com um pato, apanhado sem calças por três “ladrões da meia-noite”.
Na manhã de domingo eu estava na estação esperando a chegada do trem da Mogiana. Quando “Português” abriu o bar, entrei e lhe disse:
− Seu Nuno, aqui está o dinheiro.
Entreguei-lhe algumas notas e moedas de cruzeiro e lhe pedi que me entregasse dez exemplares do jornal que estava chegando de Ribeirão Preto.
Ele pegou o dinheiro, conferiu e o colocou na caixa registradora.
− Pegue os seus e deixe o restante no balcão –, respondeu-me antes de ir para os fundos do prédio.
Ele sequer desconfiara que eu sabia de tudo e que transformara a história numa reportagem publicada, sem tirar nem pôr, em O Diário. Por precaução, assim que o estafeta veio trazer os jornais, peguei os meus, entrei na minha charretinha puxada pelo bode “Capeta”, todo negro, sem qualquer pinta de outra cor, e dei no pé. Cerca de dois quilômetros adiante, ao chegar em casa, fui ler o jornal enquanto as pessoas iam pegando os outros exemplares. Durante o almoço do Domingo de Páscoa o assunto não foi outro senão as peripécias de “Tiãozinho”, “Cará”, “Marreco” e “Português” nas horas mortas de uma madrugada da Paixão em Guatapará.

A história desta semana é novamente uma colaboração de Plinio Vicente da Silva, assessor da Prefeitura de Boa Vista. Ele foi chefe de Reportagem do Estadão e correspondente do jornal em Roraima, onde mora desde abril de 1984.
Tem alguma história de redação interessante para contar? Mande para [email protected].
- Leia também: Quem manda neste jornal?