
Por Silvio Lancellotti
Estava escrito. Numa disputa de palitinho, eu literalmente conquistei o mimoso privilégio de cobrir ao vivo a minha primeira Copa do Mundo, no México/70. Corria o mês de Abril, nome da editora para a qual eu então trabalhava, na Veja, como editor assistente. Fora estabelecido que a revista enviaria cinco profissionais ao Altiplano, quatro no texto e um nas imagens. Então, determinada semana, a falta de um patrocinador cortou dois e a editora decidiu acumular, num time só, os remanescentes da Veja e os já definidos da recém-fundada Placar. Sobramos, lá da Veja, Tim Teixeira, porque ele cuidava dos Esportes, Armando Salem e eu. Só que, dias antes do embarque, os nossos passaportes já visados e as passagens reservadas, a Abril podou mais um. E Mino Carta, o diretor da Veja, resolveu salomonicamente. Salem e eu brigaríamos pela vaga no palitinho. Numa melhor-de-três. E eu venci.
Ao desembarcar, mal conheci a Ciudad de México. Do aeroporto mesmo, em dois carros pré-alugados, a equipe conjunta rumou a Guanajuato, quase 350 quilômetros de distância. Relíquia pré-colombiana, então com 32 mil habitantes, incrustada nas colinas do Cerro de Las Ranas, ou o Sítio das Rãs, Guanajuato localiza-se numa altitude de 3.180 metros e a Comissão Técnica da seleção a havia adotado, como sua base de treinamentos, exatamente para facilitar a adaptação dos jogadores ao ar rarefeito do país. Hoje sabe-se que, de fato, fisicamente, a equipe do Brasil voou na Copa de 70. Quando cheguei a Guanajuato, aliás, Zagallo & Cia já colecionavam duas semanas da tal adaptação. Meus colegas e eu, todavia, padecemos muito até acostumarmos à falta de oxigênio e de umidade. Do sangramento das narinas às tonturas no subir escadas.
Outros tempos, outro calendário, para o Futebol e para a Mídia. Fiquei quase um mês em Guanajuato, um lugar tão seco que as roupas lavadas desidratam-se em um par de horas e uma das atrações é o Museu das Múmias, com centenas de corpos livremente preservados, inclusive sem sepultamento. Talvez, no desenrolar das suas carreiras, os jogadores do Brasil não tenham atingido uma forma tão exuberante como naquela sua estada na região. Claro, porém, que igualmente se multiplicaram as contrapartidas incômodas. Cidadezinha celebrada também pela ótima qualidade da sua Universidade, Guanajuato vivia o seu período de férias escolares. Não existiam diversões, nem restaurantes. A embaixada do Brasil ainda organizou um show de Bossa Nova no único teatro acessível. Restavam aos jogadores, apenas, os passeios pelas ruas subterrâneas que se emaranhavam sobre leitos de rios extintos.
Abrigados no Castillo de Santa Cecília, gigantesco hotel que ocupa uma fortificação de 1686 e que tranquilamente serviria de cenário para um filme de terror e de vampiros, aos jornalistas cabia uma rotina monocórdica. Desjejum com queso e médio melón. Almoço com queso e médio melón. Jantar com queso e médio melón. Sim, pois logo se mostraram intragáveis a sopa de frango, o ensopado de frango, o assado de frango, o etcetera de frango. O velho Aymoré Moreira, treinador do Brasil bicampeão na Copa do Chile/1962, que integrava como comentarista a nossa tropa, descobriu um boteco que oferecia hamburguesas, aliás, preciosas. Comprávamos às pencas. No intervalo da manhã, frequentávamos a “janela” da seleção, hospedada no mais bucólico Parador San Javier. À tarde, víamos os exercícios com bola. Na “janela” e na tarde colhíamos as informações e tirávamos as fotografias. Para Veja, que descartara um especialista, eu dobrava nas funções.
Os textos nós transmitíamos, via teletipo, num aparelho colocado, por encomenda da Abril, num apartamento do grupo no Castillo. Datilografar num teletipo arruína os dedos. E eu me obrigava a enrolar as unhas com tiras de esparadrapo, à maneira dos voleibolistas. Para os filmes com as fotos, formávamos um pool. Enfiávamos os rolos num malote e, a cada dia, um da turma assumia a direção de um dos carros alugados e viajava 65 quilômetros até León, onde havia uma agência de uma empresa aérea com a qual a Abril mantinha convênio. De contrabando, no malote, também enfiávamos cartas e cartões postais, nossos ou dos jogadores, que, em São Paulo, o saudoso Ulysses Alves de Souza se encarregava de distribuir.
Era ainda uma missão que podia redundar em perigos de origem insólita. Empenhada em promover largamente o lançamento de Placar, a Abril havia colado, na capa do primeiro número, uma espécie de moedinha com a efígie do Pelé. Outro saudoso, Cláudio de Souza, da cúpula da editora, forneceu a cada um dos seus jornalistas daquela Copa uma sacola repleta de tais bijus que doávamos a quem solicitasse.
O Castillo tinha uma boate na qual uma bandinha mais se divertia do que entoava, Certa noite, na véspera de nos mudarmos, com a seleção, a Guadalajara, encerramos o milionésimo campeonato de buraco e uns doze de nós, entre a opção da cama ou de um novelão na TV do salão, escolhemos visitar a boate. Outros perdidos se juntavam ao redor de latinhas de cerveja. Numa mesa redonda, três homens soturnos e seis mulheres ruidosas bebiam tequila. Mulheres ruidosas em Guanajuato?
Um garçom nos advertiu. Que tomássemos cuidado. Os homens provinham de Irapuato, destacavam-se pela fama de violentos. Do grupo, apenas uma das mulheres morava na região, era a dona do único lupanar de Guanajuato. E nós esquecemos o caso. Até que, subitamente, um colega, negro como Pelé, entrou na boate e a dona do rendezvous se alçou aos berros: “Foi ele! Foi ele!” Imediatamente os homens também se levantaram, e de pistolas em punho. O colega intuiu o que logo sucederia e zuniu em retirada enquanto os homens disparavam. Reflexo coletivo, quase todos os presentes à boate nos arremessamos ao chão e debaixo dos móveis. Dez minutos de pavor absurdo.
Inacreditavelmente as duas solitárias viaturas da polícia de Guanajuato despontaram e detiveram os violentos. E o mistério da razão do entrevero desfez-se quando o colega ressurgiu em busca dos indispensáveis goles relaxantes. Funcionário de outra empresa, contou que havia achado, esquecida num canto, uma sacola com as moedinhas do Rei e que pretendia devolvê-la. Mas, noite anterior, ao passar diante do lupanar e ver a luz acesa, resolveu se empavonar. Inventou que era um mano do Pelé, usou os serviços da dama e pagou com o conteúdo da sacola.

Pouco depois um comissário da polícia foi ao Castillo verificar se ninguém havia se ferido. E nos costurou o restante da história. Ao entender que tudo aquilo que enchia a sacola não valia nem seu peso, a madame pediu socorro aos três homens, leões-de-chácara em Irapuato. E os violentos rumaram a Guanajuato com a intenção de pregar um susto no malandro. Acabaram por apavorar também uns trinta, quarenta transeuntes. Felizmente, na tarde seguinte nos transferimos todos a Guadalajara onde a seleção iniciaria a sua marcha gloriosa rumo ao Tri.
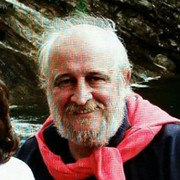
A história desta semana é novamente uma colaboração de Silvio Lancellotti. Arquiteto por diploma e jornalista por paixão, participou das equipes inaugurais de Veja e de IstoÉ, dirigiu a revista Vogue, foi cronista de Esportes e Gastronomia da Folha de S.Paulo e do Estadão. Na TV, além apresentar cerca de cinco mil programas de culinária, comentou futebol, oito edições da Copa do Mundo e seis dos Jogos Olímpicos. Escreveu cinco livros sobre esportes, 13 de culinária e quatro romances. Honra ou Vendetta transformou-se na novela Poder Paralelo, da Record, em 2009/10. Em nome do pai dos burros foi um dos cinco finalistas do Prêmio São Paulo de Literatura de 2012. Integra o elenco de colunistas do portal R7 desde 2012.
Tem alguma história de redação interessante para contar? Mande para baroncelli@jornalistasecia.com.br.

